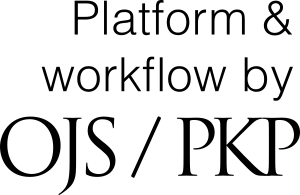O PRINCÍPIO DA MARCAÇÃO NOS MARCADORES DISCURSIVOS DE BASE VERBAL "VIU"? E "ENTENDEU"? DO PORTUGUÊS BRASILEIRO
DOI:
https://doi.org/10.24193/subbphilo.2023.4.03Keywords:
discourse markers, functionalism, cognitive linguistics, markedness, teaching Portuguese to speakers of other languages.Abstract
The markedness principle in Brazilian Portuguese verb-based discourse markers viu? and entendeu?. A productive, vigorous debate on grammar issues took place as the new millennium approached. A significant amount of work was published in that field as we witnessed a grammatical boom between 1991 and 2014 in Brazil (Faraco and Vieira 2016). Along with a resulting new range of descriptive perspectives and propositions, the debate over discourse markers (DMs) relevance has increased sharply among language curriculum professionals. Although they have played an important role in functionalist grammars where interaction is a key component, DMs are still regarded as a peripheral category in natural language normative grammars. Also, DMs are typically associated with language users’ social status. Based on cognitive-functionalist grammar studies, my research has placed DMs on the common ground between a functionalist framework (by investigating the relationship between form and content) and cognitive linguistics theory (categorization, prototypicality, conceptual metaphors). This paper explores some of my research findings on the markedness principle as applied to Brazilian Portuguese DMs viu? and entendeu? in the light of cognitive-functionalist theories. Some contrast between these DMs and their English equivalent is also explored. In doing so, I hope to bring forward new resources to explore verb-based DMs in teaching Portuguese to speakers of other languages.
REZUMAT. Principiul de marcare în cazul marcatorilor discursivi verbali din portugheza braziliană viu? și entendeu?. O dezbatere productivă și viguroasă pe teme gramaticale a avut loc odată cu apropierea noului mileniu. O cantitate semnificativă de lucrări a fost publicată în acest domeniu, asistând la un boom gramatical între 1991 și 2014 în Brazilia (Faraco și Vieira 2016). Împreună cu o nouă serie de perspective și propuneri descriptive rezultate, dezbaterea privind relevanța marcatorilor discursivi (MD) a crescut brusc în rândul profesioniștilor în curriculum lingvistic. Deși au jucat un rol important în gramaticile funcționaliste în care interacțiunea este o componentă cheie, MD sunt încă considerați o categorie periferică în gramaticile normative ale limbii naturale. De asemenea, MD sunt de obicei asociați cu statutul social al utilizatorilor de limbi străine. Pe baza studiilor de gramatică cognitiv-funcționalistă, cercetarea mea a plasat MD pe terenul comun definit de un cadru teoretic funcționalist (prin investigarea relației dintre formă și conținut) și teoria lingvisticii cognitive (categorizare, prototipicalitate, metafore conceptuale). Această lucrare explorează unele dintre rezultatele cercetării mele privind principiul marcării aplicat MD viu? și entendeu? din portugheza braziliană în lumina teoriilor cognitiv-funcționaliste. De asemenea, sunt explorate unele contraste între acesti MD și echivalentul lor în limba engleză. În acest fel, sper să aduc noi perspective pentru a explora MD deverbali în predarea limbii portugheze pentru vorbitorii de alte limbi.
Cuvinte-cheie: marcatori discursivi, funcționalism, lingvistică cognitivă, marcare, predarea limbii portugheze vorbitorilor de alte limbi.
Article history: Received 25 August 2023; Revised 5 October 2023; Accepted 5 November 2023;
Available online 20 December 2023; Available print 31 December 2023.
References
Ahmed, Shameem. 2017. “Authentic ELT Materials in the Language Classroom: An Overview.” Journal of Applied Linguistics and Language Research, vol. 4, no. 2 (2017): 181–202.
Ançã, Maria H. 2009. “Discursos sobre as Línguas – O papel dos “saberes vulgares” na Educação em Português.” In Seminário sobre Metodologias e Materiais para o ensino do Português como Língua Não Materna. Lisboa: ILTEC & APP.
Angelo, Cristiane M.P., Luciane Trennephol da COSTA e Sérgio de Andrade. 2021. “Princípios para o ensino de oralidade na Base Nacional Comum Curricular.” Revista X, vol. 16, no. 6: (1476–1492), Universidade Federal do Paraná, Departamento de Letras Estrangeiras Modernas.
Barbosa, Susana. 2002. “Dos sites noticiosos aos portais locais”. XXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação - Intercom, Campo Grande, MS. http://www. bocc.ubi.pt/pag/barbosa-suzana-jornalismo-online.pdf.
Bentes, Anna C. 2010. “Oralidade, política e direitos humanos.” In Ensino de língua portuguesa: oralidade, leitura e escrita, organizado por Vanda Maria, 41–53. São Paulo: Contexto.
Casseb-Galvão, Vânia e Maria C. Lima-Hernandes. 2012. “O equilíbrio na mudança linguística: a gradualidade em processo.” In Funcionalismo linguístico: novas tendências teóricas, organizado por Edson R. de Souza, 153–170. São Paulo: Contexto.
Castilho, Ataliba T. 2010. Nova gramática do português brasileiro. São Paulo: Contexto.
Charaudeau, Patrick e Dominique Maingueneau. 2004. Dicionário de Análise do Discurso. São Paulo: Contexto.
Coseriu, Eugenio. 1979. Teoria da linguagem e linguística geral. São Paulo: Presença.
Cunha, Angélica F. 2008. “Funcionalismo.” In Manual de linguística, organizado por Mário E. Martelotta, 157–176. São Paulo: Contexto.
Cunha, Lúcia e Noémia Jorge. 2011. “A discussão oral: proposta de sequência didática.” In Novos desafios no ensino de Português, organizado por Madalena Teixeira, Inês Silva e Leonor Santos, 152–165. Santarém: Escola Superior de Educação de Santarém.
Dias, Ana R.F. 1996. O discurso da violência – As marcas da oralidade no jornalismo popular. São Paulo: Cortez.
Dockrell, Julie e Vincent Connelly. 2009. “The impact of oral language skills on the production of written text.” The British Psychological Society: Teaching and Learning Writing, 1(1):45-62. DOI:10.1348/000709909X421919.
Faraco, Carlos A. e Francisco E. Vieira (orgs.). 2016. Gramáticas brasileiras – com a palavra, os leitores. São Paulo: Parábola.
Fávero, Leonor L. et al. 2010. “Interação em diferentes contextos.” In Linguística de texto e análise da conversação – panorama das pesquisas no Brasil, organizado por Anna C. Bentes e Marli Q. Leite, 91–158. São Paulo: Cortez.
Fávero, Leonor L., Maria L.C.V.O. Andrade e Zilda Aquino. 2015. “O par dialógico pergunta-resposta.” In A construção do texto falado. Coleção Gramática do Português Culto Falado no Brasil, coordenada por Ataliba T. Castilho. Vol. 1, organizado por Clélia S. Jubran, 127–157. São Paulo: FAPESP
Freitag, Raquel Meister Ko. 2013. “Marcadores discursivos não são vícios de linguagem!”. Interdisciplinar – Revista de Estudos em Língua e Literatura 4 (julho). São Cristóvão, SE. https://periodicos.ufs.br/interdisciplinar/article/ view/1091.
Givón, Talmy. 1991. Functionalism and grammar: a prospectus. University of Oregon.
__________. 1995. Functionalism and grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
__________. 2005. Context as other minds. Amsterdam/Philadelphia: Jonh Benjamins Publishing Company.
__________. 2018. On Understanding Grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Gomes-Santos, Sandoval N. 2012. A exposição oral – nos anos iniciais do Ensino Fundamental. São Paulo: Cortez Editora.
Gonçalves, Sebastião C.L., Vânia Casseb-Galvão e Maria C. Lima-Hernandes. 2007. Introdução à gramaticalização. São Paulo: Parábola.
Hilgert, José G. 2013. “Procedimentos profiláticos na construção do sentido e na compreensão da conversa.” In Comunicação na fala e na escrita, Projetos Paralelos – NURC/SP, vol. 12, organizado por Dino Preti e Marli Q. Leite, 71–91. São Paulo: Humanitas.
__________. 2015. “Parafraseamento.” In A construção do texto falado. Coleção Gramática do Português Culto Falado no Brasil, coordenada por Ataliba T. Castilho. Vol. 1, organizado por Clélia S. Jubran, 257–278. São Paulo: FAPESP.
Julião da Silva, Sérgio D. 2010. “Análise e exploração de marcadores discursivos no ensino de Português-Língua Estrangeira (PLE) no Brasil.” Tese de doutorado, Universidade de São Paulo.
__________. 2018 “Ensino da gramática em Português Segunda Língua: propostas funcionalistas.” In Lugar da gramática na aula de Português, organizado por Paulo Osório, Eulália Leurquin e Maria da C. Coelho, 44–64. Rio de Janeiro: Dialogarts.
__________. 2021. “The markedness principle in verb-based discourse markers.” In Cognition, complexity and context as other minds: A tribute to T. Givón, coordenado por Maria C. Lima-Hernandes, 55–65. São Paulo: FFLCH-USP.
Koch, Ingedore V. 2015. “Especificidade do texto falado.” In A construção do texto falado. Coleção Gramática do Português Culto Falado no Brasil, coordenada por Ataliba T. Castilho. Vol. 1, organizado por Clélia S. Jubran, 39–46. São Paulo: FAPESP.
Leite, Marli Q. 1999. “Língua falada: uso e norma.” In Estudos de língua falada – variações e confrontos. Projetos Paralelos – NURC/SP (Núcleo USP), vol. 3, organizado por Dino Preti, 179–208. São Paulo: Humanitas
Lima-Hernandes, Maria C. (coord.) 2021. Cognition, complexity and context as other minds: A tribute to T. Givón. São Paulo: FFLCH-USP.
Lima-Hernandes, Maria C. e Renata Barbosa Vicente. 2012. A língua portuguesa falada em São Paulo: amostra da variedade culta do século XXI. São Paulo: Humanitas.
Marcuschi, Luiz A. 1997. Análise da conversação. São Paulo: Ática.
__________. 2000. “Oralidade e ensino de língua: uma questão pouco ‘falada’.” In Gêneros textuais e ensino, organizado por Angela P. Dionisio, Anna R. Machado e Maria A. Bezerra. Rio de Janeiro: Lucerna.
__________. 2002. “A repetição na língua falada como estratégia de formulação textual.” In: Gramática do português falado, vol. VI: Desenvolvimentos, organizado por Ingedore V. Koch, 105–141. Campinas: Ed. UNICAMP.
__________. 2010. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São Paulo: Cortez.
__________. 2015. “Repetição.” In A construção do texto falado. Coleção Gramática do Português Culto Falado no Brasil, coordenada por Ataliba T. Castilho. Vol. 1, organizado por Clélia S. Jubran, 207–240. São Paulo: FAPESP.
Mira Mateus, Maria H. 2014. A língua portuguesa - Teoria, aplicação e investigação. Lisboa: Colibri.
Neves, Maria H.M. 1999. “Estudos funcionalistas no Brasil.” D.E.L.T.A. 15: 71–104.
__________. 2018. Gramática funcional – interação, discurso e texto. São Paulo: Contexto.
Oliveira, Mariangela R. e Vânia R. M. Sambrana. 2018. Marcadores discursivos de base perceptivo-visual: uma abordagem construcional. Confluência, 327-349.
Passeggi, Luís et al. 2010. “A análise textual dos discursos: para uma teoria da produção co(n)textual de sentido.” In Linguística de texto e análise da conversação – panorama das pesquisas no Brasil, organizado por Anna C. Bentes e Marli Q. Leite, 262–312. São Paulo: Cortez.
Preti, Dino. 1997. Sociolinguística: os níveis de fala. São Paulo: EDUSP.
__________. 2002. “Alguns problemas interacionais da conversação.” In Interação na fala e na escrita.” Projetos Paralelos – NURC/SP (Núcleo USP), vol. 5, organizado por Dino Preti, 45– 66. São Paulo: Humanitas.
Raso, Tommaso; Albert Rilliard e Saulo Mendes Santos. 2022. “Modeling the prosodic forms of discourse markers.” Domínios de Lingu@gem 16, nº 4 (out.–dez. 2022): 1436–1488. https://doi.org/10.14393/DL52-v16n4a2022-8
Risso, Mercedes S., Giselle M.O. Silva e Hudinilson Urbano. 2002. “Marcadores discursivos: traços definidores.” In: Gramática do português falado, vol. VI: Desenvolvimentos, organizado por Ingedore V. Koch, 21–94. Campinas: Ed. UNICAMP.
Rojo, Roxane H.R. e Bernard Schneuwly. 2006. “As relações oral/escrita nos gêneros orais formais e públicos: o caso da conferência acadêmica.” Linguagem em (Dis)curso, v. 6, n.3 (set./dez.): 463–493.
Schilling, Natalie. 2013 “Surveys and interviews.” Research methods in linguistics, organizado por Robert J. Podesva e Devyani Sharma, 96–115. New York & Cambridge: Cambridge University Press.
Snichelotto, Claudia A.R. e Edair M. Görski. 2011. (Inter)subjetivização de marcadores discursivos de base verbal: instâncias de gramaticalização. Alfa: Revista de Linguística (São José do Rio Preto), 55, 423- 455
Schütze, Carson T. e Jon Sprouse. 2013. “Judgment data.” In Research methods in linguistics, organizado por Robert J. Podesva e Devyani Sharma, 27–50. New York & Cambridge: Cambridge University Press.
Souza, Amanda e Marilene Machado. 2020. “A categoria aspecto verbal e o ensino: o que os alunos revelam conhecer e/ou entender sobre essa categoria.” Scripta, v. 24, n. 51: 455 –486.
Tannen, Deborah. 2007. Talking voices: Repetition, dialogue, and imagery in conversational discourse. Nova Iorque: Cambridge University Press.
Tavares, Lúcia H.M.C. 2021. “A análise do discurso de tradição francesa: um viés foucaultiano.” In Teorias linguísticas – orientações para a pesquisa, organizado por Cid I. C. Carvalho e José R. Alves, 125–156. Mossoró: EdUFERSA.
Travaglia, Luiz C. 2016. O aspecto verbal no português: a categoria e sua expressão. Uberlândia: EDUFU.
Vieira, Francisco E. 2016. “Gramatização brasileira contemporânea do português: novos paradigmas?” In Gramáticas brasileiras – com a palavra, os leitores, organizado por Carlos A. Faraco e Francisco E. Vieira, 19–69. São Paulo: Parábola.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Studia Universitatis Babeș-Bolyai Philologia

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
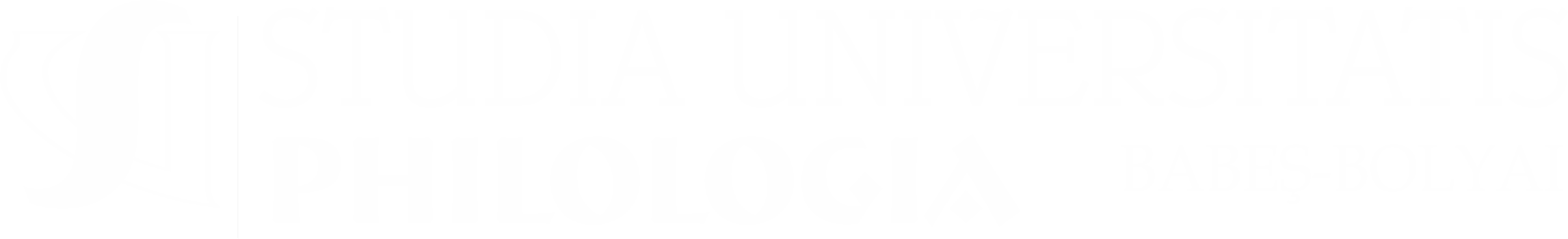
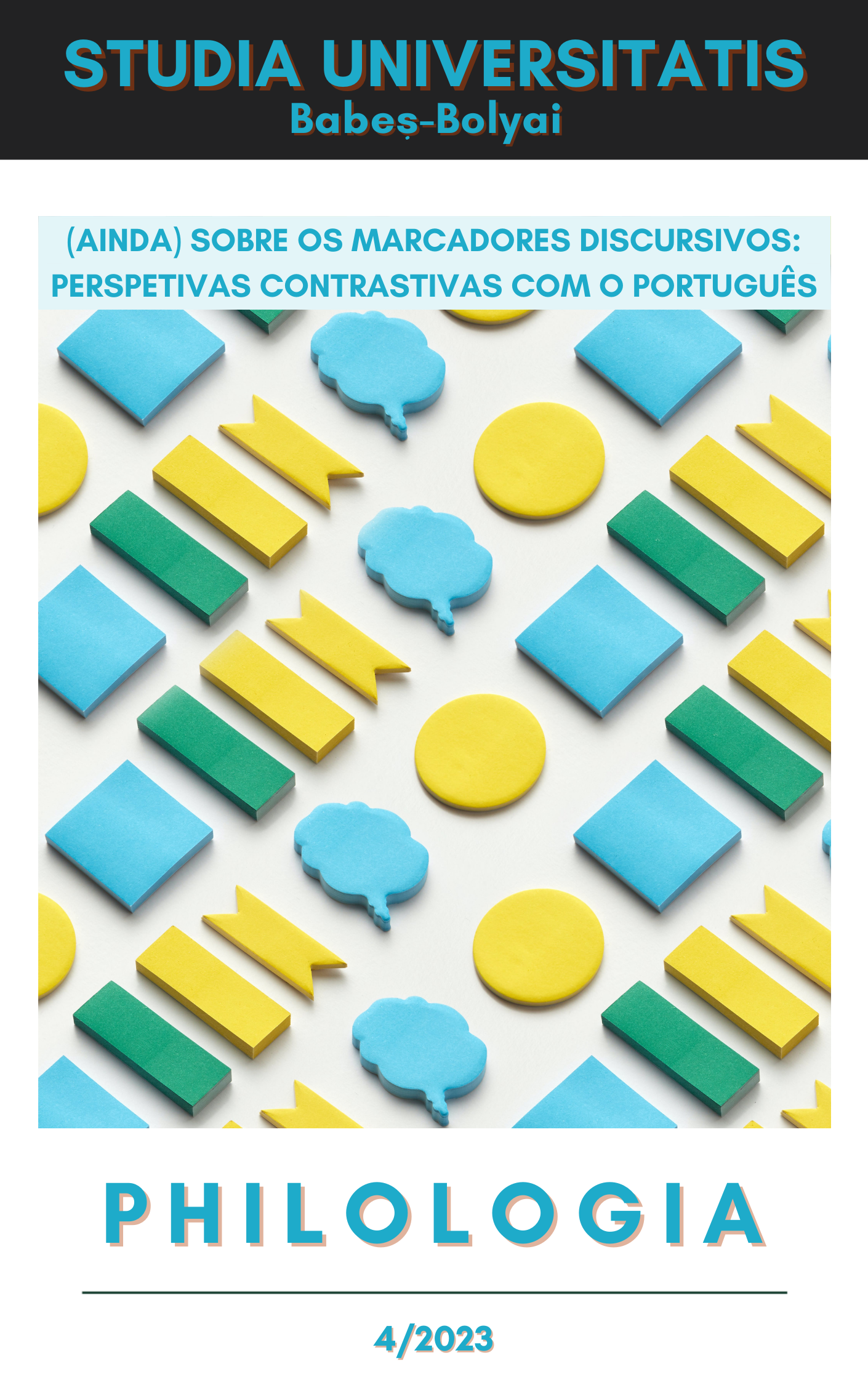



 ©Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia. Published by Babeș-Bolyai University.
©Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia. Published by Babeș-Bolyai University.